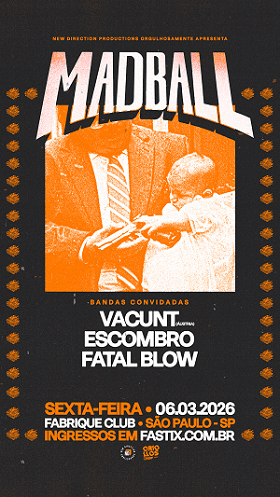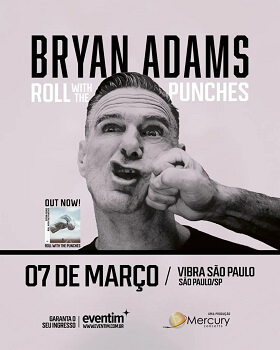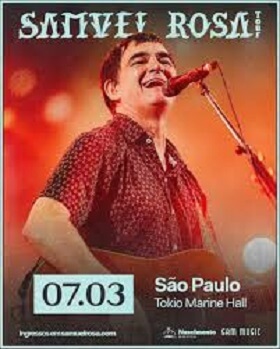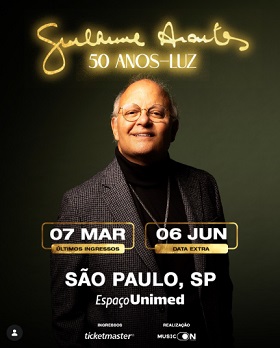Texto e Fotos: Flavio Santiago
Texto e Fotos: Flavio Santiago
A passagem do The Brian Jonestown Massacre por São Paulo, com apresentação no Usine, foi daquelas noites em que o caos, a beleza e a imprevisibilidade caminharam lado a lado, exatamente como se espera de uma banda que construiu sua mitologia à base de excessos, genialidade e confrontos constantes com a própria ideia de normalidade no rock. O show integrou a turnê mais recente do grupo liderado por Anton Newcombe e encontrou no público paulistano um terreno fértil, atento, paciente e consciente de que qualquer coisa poderia acontecer dali em diante.
A noite teve início com a apresentação do Emma Stoned, que assumiu o palco ainda com a casa em processo de ocupação, mas rapidamente capturou a atenção de quem já estava presente. Com um som que flerta com o shoegaze, o dream pop e a psicodelia contemporânea, a banda construiu uma atmosfera densa e envolvente. Camadas de guitarras, vocais etéreos e uma postura de palco contida, porém hipnótica, funcionaram como um convite ao mergulho sensorial que se desenharia ao longo da noite. Foi uma abertura coesa, que preparou o terreno sonoro e emocional para o que viria a seguir.
 Na sequência, Odair José subiu ao palco em um dos momentos mais curiosos e comentados da programação. À primeira vista improvável para um evento encabeçado por uma banda de rock psicodélico, sua presença acabou funcionando como um deslocamento cultural potente.
Na sequência, Odair José subiu ao palco em um dos momentos mais curiosos e comentados da programação. À primeira vista improvável para um evento encabeçado por uma banda de rock psicodélico, sua presença acabou funcionando como um deslocamento cultural potente.
 Odair apresentou um repertório enxuto, apoiado em canções que atravessam gerações e carregam o peso de uma trajetória marcada pela marginalização e pelo confronto com padrões estabelecidos.
Odair apresentou um repertório enxuto, apoiado em canções que atravessam gerações e carregam o peso de uma trajetória marcada pela marginalização e pelo confronto com padrões estabelecidos.
 O público, majoritariamente ligado ao rock alternativo, respondeu com respeito e curiosidade, reconhecendo no artista um espírito outsider que dialoga diretamente com a essência do Brian Jonestown Massacre.
O público, majoritariamente ligado ao rock alternativo, respondeu com respeito e curiosidade, reconhecendo no artista um espírito outsider que dialoga diretamente com a essência do Brian Jonestown Massacre.
 Quando Anton Newcombe e sua trupe finalmente surgiram no palco, o clima no Usine mudou de forma imediata. Não houve grandes discursos nem tentativas evidentes de aproximação com a plateia. O Brian Jonestown Massacre entrou em cena fiel à sua própria lógica, com volume alto, iluminação mínima e uma parede sonora que parecia se expandir a cada música executada.
Quando Anton Newcombe e sua trupe finalmente surgiram no palco, o clima no Usine mudou de forma imediata. Não houve grandes discursos nem tentativas evidentes de aproximação com a plateia. O Brian Jonestown Massacre entrou em cena fiel à sua própria lógica, com volume alto, iluminação mínima e uma parede sonora que parecia se expandir a cada música executada.
 O repertório percorreu diferentes fases da banda, costurando canções mais recentes com clássicos que ajudaram a definir sua estética ao longo das últimas décadas. As guitarras, sempre protagonistas, sustentaram um transe coletivo construído sobre grooves repetitivos, linhas de baixo hipnóticas e baterias com um pulso quase tribal. Anton Newcombe, alternando momentos de concentração absoluta com ajustes intermináveis de pedais e olhares desconfiados tanto para a plateia quanto para os próprios músicos, conduziu o show como um maestro errático, oscilando entre lampejos de genialidade e tensão latente.
O repertório percorreu diferentes fases da banda, costurando canções mais recentes com clássicos que ajudaram a definir sua estética ao longo das últimas décadas. As guitarras, sempre protagonistas, sustentaram um transe coletivo construído sobre grooves repetitivos, linhas de baixo hipnóticas e baterias com um pulso quase tribal. Anton Newcombe, alternando momentos de concentração absoluta com ajustes intermináveis de pedais e olhares desconfiados tanto para a plateia quanto para os próprios músicos, conduziu o show como um maestro errático, oscilando entre lampejos de genialidade e tensão latente.
 Pequenos atritos no palco, pausas abruptas e mudanças de humor fizeram parte da experiência e reforçaram a sensação de que nada ali era totalmente seguro ou previsível. Ainda assim, ou talvez justamente por isso, o show alcançou momentos de intensidade absoluta. Algumas músicas se estenderam além do formato tradicional, transformando-se em longas jams psicodélicas, enquanto outras surgiram quase como canções pop distorcidas, lembrando que o Brian Jonestown Massacre também sabe ser melódico quando deseja.
Pequenos atritos no palco, pausas abruptas e mudanças de humor fizeram parte da experiência e reforçaram a sensação de que nada ali era totalmente seguro ou previsível. Ainda assim, ou talvez justamente por isso, o show alcançou momentos de intensidade absoluta. Algumas músicas se estenderam além do formato tradicional, transformando-se em longas jams psicodélicas, enquanto outras surgiram quase como canções pop distorcidas, lembrando que o Brian Jonestown Massacre também sabe ser melódico quando deseja.
 O público respondeu menos com explosões de euforia e mais com uma entrega silenciosa e concentrada, como se participasse de um ritual coletivo. Ao final, a apresentação no Usine confirmou aquilo que já se sabe há tempos. Assistir ao Brian Jonestown Massacre ao vivo não é apenas ir a um show, mas aceitar um pacto com o imprevisível. Entre falhas, brilhos e excessos, a banda entregou uma experiência crua e intensa, potencializada por uma curadoria de aberturas que fugiu do óbvio e ampliou o significado da noite em São Paulo.
O público respondeu menos com explosões de euforia e mais com uma entrega silenciosa e concentrada, como se participasse de um ritual coletivo. Ao final, a apresentação no Usine confirmou aquilo que já se sabe há tempos. Assistir ao Brian Jonestown Massacre ao vivo não é apenas ir a um show, mas aceitar um pacto com o imprevisível. Entre falhas, brilhos e excessos, a banda entregou uma experiência crua e intensa, potencializada por uma curadoria de aberturas que fugiu do óbvio e ampliou o significado da noite em São Paulo.